
Ilustração: Clarice Wenzel
De abril de 2024 a março de 2025, como parte da terceira edição da Feminist Internet Research Network (FIRN), o Instituto Minas Programam realizou uma pesquisa sobre os impactos da violência de gênero facilitada pela tecnologia (VGFT) nas experiências de mulheres negras brasileiras.
Nossos resultados mostram que, apesar das tecnologias digitais convencionais serem frequentemente carregadas de racismo, machismo e misogynoir[1], as mulheres negras brasileiras têm conquistado seus próprios espaços online, construindo estratégias de resistência, conexão e possibilidade: usando tecnologias digitais para construir relacionamentos e trocar conhecimentos, encontrando caminhos para a expressão coletiva e individual, se engajando com o discurso e o ativismo feminista negro, e influenciando agendas culturais e políticas em todo o país.
Neste artigo, apresentamos as principais conclusões desta pesquisa.
Introdução: A pesquisa que nos interessava construir
A década anterior a esta publicação foi marcada por uma presença crescente e robusta de mulheres negras brasileiras se organizando e escrevendo online por meio de blogs, páginas de mídia social, grupos e redes online. Foi uma época em que as mulheres negras brasileiras introduziram com sucesso novos vocabulários ao público online, além de disseminarem o pensamento feminista negro para audiências mais amplas, alcançando a agenda cultural e política do Brasil.[2] Foi também quando a organização da qual escrevemos esta pesquisa, o Instituto Minas Programam, surgiu como um espaço de produção de conhecimento criado por e para mulheres e meninas negras.
Simultaneamente, foi uma década marcada pela ocorrência de VGFT e misogynoir contra mulheres negras brasileiras. De vez em quando, alguns desses casos, especialmente quando envolviam pessoas públicas e de destaque, vinham à tona. Nós vimos – às vezes de perto, às vezes de longe – esses incidentes se desenrolarem.
Quando começamos a imaginar como seria esse projeto de pesquisa, nos sentimos compelidas a construir uma narrativa sobre a VGFT e a misogynoir no Brasil que levasse em conta as histórias de como as mulheres negras vivenciaram esses incidentes: como eles as impactaram, como as mulheres elaboraram, interpretaram e analisaram esses fenômenos e, fundamentalmente, o que suas experiências e reflexões significaram para suas relações com as tecnologias digitais.
Para isso, recorremos a conversas: nossa metodologia se baseia em métodos de coleta de dados qualitativos, incluindo entrevistas semiestruturadas e encontros em grupo com 12 mulheres negras brasileiras – escritoras, políticas, tecnólogas, estudantes, líderes comunitárias, artistas e jornalistas – que sofreram alguma forma de VGFT e que estão envolvidas com organizações de justiça social, movimentos sociais e ativismo político e/ou digital.
Essa conversa começou, de certa forma, antes do próprio projeto de pesquisa. Nossa metodologia inclui uma observação crítica da presença online das participantes: uma prática de estudo intencional e contextualizada da presença delas online. Isso foi possível porque, como pesquisadoras, tivemos envolvimento prévio em diferentes espaços de organização de mulheres negras brasileiras (digitais e offline) em vários graus ao longo dos anos. Muitos dos blogs, comunidades online e publicações descritas pelas participantes da pesquisa são espaços que nós, pesquisadoras, acompanhamos há anos, onde publicamos nossos textos e/ou nos envolvemos em discussões e eventos. Alguns dos exemplos citados durante as entrevistas são incidentes que nós mesmas testemunhamos antes de iniciar a pesquisa. Conhecemos algumas das pessoas entrevistadas e/ou acompanhamos algumas delas ao longo da última década devido à sua presença online e ativismo digital.[3]
Nossas escolhas metodológicas foram fortemente influenciadas pelo pensamento feminista negro, que serviu tanto como inspiração para o desenho da pesquisa quanto como lente teórica principal para a análise de dados, fornecendo uma estrutura que nos permite compreender como raça, gênero, classe e poder moldam as experiências das mulheres negras na internet. Ao longo do projeto, nos esforçamos para reconhecer nossa posição como pesquisadoras, responder e acolher as maneiras como as participantes da pesquisa nos levaram a fortalecer nossa abordagem de pesquisa, adotar medidas (imperfeitas) para navegar pelas dinâmicas de poder incorporadas ao processo de pesquisa e honrar as participantes da pesquisa como colaboradoras essenciais deste trabalho.[4]
Para onde nossa pesquisa e nossas conversas nos levaram? Uma história de mulheres negras brasileiras criando espaços próprios
“Nós cavamos esse espaço para relacionamentos e trocas, de verdade.”[5]
Nesta citação, Flávia, que tem um longo histórico de ativismo político, refere-se ao seu envolvimento com comunidades feministas e feministas negras online no início da década de 2010 e explica algo que ressoou com muitas outras entrevistadas: era uma época em que conversas profundas sobre questões importantes para as mulheres negras brasileiras estavam ocorrendo online. Esse período foi caracterizado por uma presença crescente de mulheres negras brasileiras nas redes sociais e na internet.[6] Blogs, páginas, grupos e redes online estavam surgindo: as mulheres negras brasileiras estavam encontrando novos canais de expressão, maneiras de compartilhar suas experiências, se divertir e buscar pertencimento.[7]
As participantes da pesquisa também usam tecnologias digitais para expressar suas opiniões, escrever sobre suas experiências, denunciar injustiças, se organizar em movimentos sociais e promover seus projetos políticos. Flávia – junto com outras entrevistadas – aponta que isso foi possível graças à prática das mulheres negras brasileiras de “cavar”, ou conquistar, espaços para conversas, negociações, elaboração intelectual e análise política. Esses eram espaços que não necessariamente eram abertos ou receptivos ao discurso, à organização e à comunidade das mulheres negras brasileiras.
As mulheres negras brasileiras entrevistadas para este projeto reconheceram que as plataformas de redes sociais e as tecnologias digitais convencionais não são projetadas para mulheres negras (e muitas vezes podem ser hostis a elas). Ao mesmo tempo, elas refletiram sobre o valor de “cavar” seus próprios espaços na internet: espaços para compartilhar experiências, participar de discussões com outras mulheres negras, construir conexões e promover um senso de comunidade. Consideramos que a noção de “cavar” lembra as ideias de “encontrar brechas” (ou “finding chasms”, no original em inglês), articuladas pela acadêmica Knight Steele, e de “alquimia digital”, descrita por Bailey.[8] Esta metáfora de “cavar espaços”, oferecida por uma participante da pesquisa, ilustra o trabalho, o cuidado e o tempo necessários para criar, construir e manter esses espaços online, apesar da violência de gênero e da misogynoir.
Nesta pesquisa, constatamos que, ao “cavar” seus/nossos próprios espaços online, as mulheres negras brasileiras criaram espaço para a construção de relacionamentos e a troca de conhecimento entre si, encontraram caminhos para a expressão coletiva e individual e o engajamento com o discurso e o ativismo feminista negro e influenciaram agendas culturais e políticas em todo o país.
”Mexendo no vespeiro”: analisando os impactos da VGFT e da misoginoyr
Nosso relatório oferece uma análise mais detalhada de como os espaços online estão impregnados de racismo, machismo e misoginia no Brasil e como isso afeta as experiências das mulheres negras brasileiras na internet. Compartilhamos histórias de escritoras, ativistas e políticas cujos escritos públicos, organização e engajamento político online foram alvo de tentativas de deslegitimar e intimidar por meio da VGFT, bem como de mulheres negras que trabalham na área de ciência e tecnologia, que enfrentam ataques ao assumirem funções profissionais e/ou entrarem em espaços digitais. As consequências da VGFT e da misogynoir incluíram impactos na liberdade de expressão das mulheres negras brasileiras, levando ao silenciamento, à autocensura e a limitações no comportamento online; geraram consequências psicológicas e emocionais duradouras; e, às vezes, tornaram-se obstáculos para as carreiras profissionais das mulheres e seu engajamento com o ativismo.
Nossas conclusões reiteram a importância de analisar a VGFT contra mulheres negras como um fenômeno que deve ser entendido como continuidade de expressões violentas mais amplas de racismo, machismo e capacitismo prevalentes na sociedade brasileira. Constatamos que a VGFT contra mulheres negras muitas vezes busca reproduzir e/ou amplificar narrativas de que as mulheres negras brasileiras são contribuidoras inadequadas para o debate público sobre política, cultura, sociedade, relações raciais, questões sociais no Brasil e/ou não são aptas para ocupar certos cargos profissionais em áreas predominantemente ocupadas por brasileiros brancos (e muitas vezes homens).
“Não importa o quão simples seja o que você vai dizer, como mulher negra falando sobre tecnologia, você está mexendo num vespeiro”, explica Lúcia, uma tecnóloga de 39 anos que sofreu VGFT.[9] A noção de “vespeiro”, que Lúcia habilmente descreveu, revela a hostilidade dos espaços online no Brasil que muitas outras participantes da pesquisa nos descreveram; espaços onde as mulheres negras são frequentemente vistas como “invasoras” e sujeitas a ataques frequentes. Aqui, nossas descobertas ecoam a pesquisa publicada por Trindade, que afirma que mulheres negras entre 20 e 35 anos e com diferentes graus de mobilidade social representam 81% das vítimas de discurso racista nas redes sociais no Brasil; e que as postagens, “piadas” e ataques direcionados a elas tentam retratar as mulheres negras como “outras”, seja como “invasoras”; como “delinquentes”; ou como “incultas” – especialmente quando elas acessam (ou parecem estar acessando) posições de status social relativamente mais elevado.[10]
Como observa Trindade, os usuários que se perpetuam essas violências estão contribuindo para “a construção e disseminação de discursos racializados de cunho colonial contra os negros brasileiros nas redes sociais”, reforçando sua perpetuação na sociedade brasileira.[11]
Essas histórias refletem uma questão sistêmica mais ampla: a resistência à participação das mulheres negras brasileiras em certos espaços elitistas e campos dominados pelos homens (brancos). Como Cida Bento aponta por meio do conceito do “pacto da branquitude”, nossa presença nesses espaços é frequentemente percebida como uma invasão territorial, uma ameaça à ordem estabelecida.[12] Quando as mulheres negras ousam cruzar essas fronteiras invisíveis, nos tornamos alvos preferenciais do discurso de ódio que nos caracteriza como “outras” que não pertencem a esses ambientes.
Nossos resultados mostram que estereótipos prejudiciais relacionados às mulheres negras brasileiras não pertencerem a espaços como bibliotecas, universidades, política, profissões STEM (das áreas de ciências, tecnologia, engenharias e matemática) e não serem vistas como intelectuais, criadoras de conhecimento e educadoras válidas têm sido frequentemente invocados em casos de VGFT. As várias formas de VGFT enfrentadas pelas participantes da pesquisa foram permeadas por narrativas que tentam retratá-las como inadequadas e/ou não qualificadas para o trabalho intelectual, para certas profissões, para cargos na política e para a organização em torno de questões sociais. Também observamos que, quando o conteúdo de seu trabalho deixava evidentes suas intenções de trazer mudanças radicais para suas comunidades, isso influenciava fortemente os ataques que elas sofriam.
As consequências da VGFT e da misogynoir: reconsideração crítica do envolvimento com tecnologias digitais e práticas de cuidados digitais
Constatamos que a VGFT e a misogynoir afetam a vida e o bem-estar das participantes, bem como seu comportamento online. Algumas mulheres mudaram a forma como publicavam ou interagiam nos espaços online, outras abandonaram os espaços online em que participavam e outras ainda desistiram de continuar a organizar e/ou prosseguir as suas carreiras. Ao analisar estas mudanças no comportamento online, a nossa interpretação é que, embora o efeito silenciador seja uma consequência inegável da VGFT, prejudicando a liberdade de expressão de quem a sofre, as mulheres negras brasileiras que entrevistámos também se envolveram numa espécie de recusa em ser totalmente silenciadas.
Por exemplo, Maria descreveu que, após sofrer VGFT e violência política de gênero, ela reformulou completamente seu comportamento online.[13] Embora tenha decidido não buscar uma posição pública de destaque como influenciadora política e representante eleita, ela continuou a trabalhar na política de outras maneiras. Ela explica que concilia o impacto de sua experiência com a VGFT com seu interesse em usar as tecnologias digitais de maneiras que considera afirmativas:
“Ainda estou nas redes sociais, mas às vezes uma lembrança daqueles momentos me atinge e eu faço de tudo [para diminuir a exposição]. Depois das minhas experiências passadas, tenho medo; removi informações potencialmente sensíveis das minhas contas nas redes sociais e não posto mais [sobre minha família ou rotina]. Ao mesmo tempo, embora tenha removido todas essas informações, ainda uso minhas contas, ainda posto sobre política e coisas com as quais me importo. Estou vivendo com essa dualidade, sabe?”
Essa “dualidade” foi repetida por muitas entrevistadas que descreveram as consequências dos incidentes de VGFT como momentos de pausa, períodos de reconsideração crítica de como elas querem se envolver com as tecnologias digitais dali em diante. Constatamos que as mulheres negras brasileiras que sofrem VGFT enfrentam um conjunto complexo de repercussões. As entrevistadas passam por um processo intencional de tomada de decisão sobre seu envolvimento com as tecnologias , informado por noções de cuidado digital, equilibrando a consciência de como os espaços online são permeados pela combinação de racismo, machismo e a crença de que eles ainda podem ser valiosos para seus objetivos.
A partir disso, surgem duas considerações importantes: a primeira diz respeito ao reconhecimento, por parte dos participantes da pesquisa, de que as tecnologias digitais, incluindo as plataformas que dominam a internet atualmente, não são projetadas de forma justa para as mulheres negras. Muitas participantes expressaram que, em suas percepções, suas experiências com VGFT e misogynoir são exemplos de como o design e o desenvolvimento de muitas tecnologias digitais convencionais reforçam, amplificam e aprofundam formas de opressão, como racismo, machismo, preconceito contra idosos e preconceito contra pessoas com deficiência. Somos lembradas de que a violência não é uma falha no sistema: o racismo, a misoginia, o preconceito contra pessoas com deficiência e o preconceito de classe incorporados em nossas tecnologias não são defeitos — são características do design.[14]
A segunda consideração que queremos destacar diz respeito ao desejo das participantes da pesquisa de adotar práticas de cuidados digitais, de continuar usando essas tecnologias digitais de maneiras que preservem os “corpos e mentes” das mulheres negras, apesar das “tecnologias serem hostis”.[15] Ao longo do projeto de pesquisa, várias entrevistadas descreveram tomar decisões sobre o uso da tecnologia digital para manter seu bem-estar, incluindo alterar a privacidade e adotar medidas de segurança; selecionar plataformas de mídia social para priorizar, ponderando onde seria estratégico manter uma presença online; mudar para espaços online mais “privados” para se organizar; e refletir sobre quais tipos de conteúdo postar em quais plataformas.
“Estamos juntas”: Nossas conversas terminam com comunidade, amizades e esperança
“Tenho percebido cada vez mais que são as mulheres pretas que aguentam o tranco para apoiar outras mulheres pretas. São as mulheres negras que se agarram e dizem: ‘Estamos juntas, amiga, você não está sozinha, vamos em frente’. Precisamos ter mais espaços auto-organizados, onde possamos debater, formular, pensar. Sobre nós. Por nós. Para nós.”[16]
Um fio condutor comum em muitas de nossas entrevistas é que, quando mulheres negras brasileiras enfrentam várias formas de VGFT, muitas vezes é em outras mulheres negras que elas encontram a amizade, a comunidade e o apoio de que precisam.[17] Após a VGFT, as mulheres negras cultivam a amizade e a comunidade entre si. As declarações comoventes de Letícia, “Estamos juntas” e “Você não está sozinha”, servem como um lembrete da importância dos espaços auto-organizados onde as mulheres negras podem se reunir, discutir, traçar estratégias e transformar suas realidades.
Em um de nossos encontros com as participantes da pesquisa, perguntamos às presentes se elas tinham alguma reflexão ou pergunta sobre o processo de forma mais ampla. “Quero saber: o que acontece depois que vocês publicarem essa pesquisa?”, perguntou Ana. “Acho que deveria ser um trampolim para outras coisas. Deveria ser um ponto de partida para mais. Mais encontros, mais debates públicos sérios sobre [a VGFT contra mulheres negras brasileiras].” Outras concordaram. A demanda das participantes por mais espaços de troca e conversa entre mulheres negras afetadas pela VGFT e pela misogynoir ecoou ao longo de nossa pesquisa. Muitas apontam que é precisamente por meio da comunidade e da conexão com outras mulheres negras que será possível para aquelas afetadas pela VGFT e pela misogynoir combater algumas das consequências em suas vidas e se organizar coletivamente.
Como parte deste projeto de pesquisa, além de aprofundar nossa compreensão sobre como a VGFT afeta as mulheres negras no Brasil, queríamos explorar quais são as esperanças e demandas dessas mulheres em relação às tecnologias digitais e à internet. Uma parte significativa de nossas conversas com as participantes da pesquisa durante entrevistas e encontros em grupo foi motivada por perguntas relacionadas ao que elas queriam das tecnologias digitais e da internet. “Como seria ter tecnologias digitais que correspondessem ao que queremos e ao que precisamos?”, “O que queremos das tecnologias digitais?”, “Como as tecnologias digitais podem ser afirmativas, em vez de prejudiciais?”.
Além de analisar os pontos negativos, as participantes também articularam o que desejam que as tecnologias digitais e a internet se tornem. Essas não são questões simples de explorar, e as participantes da pesquisa tinham muito a compartilhar. Aqui estão alguns dos destaques, conforme interpretados por nós: suas visões se unem em torno de quatro demandas inter-relacionadas: liberdade de expressão, acesso ao conhecimento, tecnologias feitas por e para mulheres negras.
- Liberdade de expressão para mulheres negras brasileiras. Verificou-se que a violência de gênero facilitada pelas tecnologias (VGFT) e o racismo afetam significativamente a liberdade de expressão das mulheres negras brasileiras. As participantes da pesquisa neste projeto indicaram que garantir a liberdade de expressão das mulheres negras é um elemento crucial para uma Internet saudável.
- Acesso ao conhecimento, à informação e à liberdade de pensamento. As participantes descreveram que uma internet melhor para mulheres negras seria um espaço onde elas pudessem acessar facilmente narrativas diversas sobre a vida das mulheres negras, incluindo conhecimento e conteúdo gerados pelas próprias mulheres negras. Nossas descobertas apontam para a importância de as mulheres negras (e outros grupos minoritários no Brasil) poderem acessar informações e conhecimentos relevantes que sejam úteis para elas de forma livre. Ao mesmo tempo, em nossas conversas, as participantes enfatizaram a importância de ter ambientes digitais onde as informações e o conteúdo sobre mulheres negras não sejam carregados de visões racistas, sexistas e pejorativas. Por fim, muitas participantes expressaram preocupação com os modelos de negócios das grandes plataformas tecnológicas comerciais amplamente utilizadas no Brasil.
- Tecnologias digitais feitas por nós e para nós. Entre as participantes da pesquisa, há um reconhecimento de que as tecnologias digitais não são neutras e que as plataformas que dominam a internet hoje não são projetadas de forma justa para as mulheres negras. Ao longo do projeto de pesquisa, as participantes frequentemente apontaram como o design e o desenvolvimento de muitas dessas tecnologias podem, em muitos casos, reforçar fenômenos como racismo, machismo e capacitismo. À luz disso, há um apelo por mais espaços e condições para que mais mulheres negras possam continuar a aprender como desenvolver tecnologias, bem como questionar, desafiar e se opor aos impactos sociais das tecnologias digitais que já existem. Em segundo lugar, há também uma demanda para que as tecnologias digitais sejam desenvolvidas de forma a não reproduzir e amplificar a desigualdade, o racismo e a misoginia.
Ao encerrarmos este projeto, esperamos que este trabalho contribua para esforços mais amplos de construção de um campo de pesquisa e prática sobre VGFT que priorize e que seja responsivo às experiências vividas e às visões políticas das mulheres negras. Entendemos este trabalho como parte de uma conversa de longo prazo que requer colaboração, escuta e engajamento para imaginar e criar futuros digitais mais justos e seguros. Convidamos as leitoras a refletir sobre como as mulheres negras no Brasil, por meio de suas práticas de sobrevivência, resistência e prazer, já estão construindo um futuro digital mais livre e inclusivo.
Footnotes
[1] Cunhado por Bailey e Trudy, o termo refere-se às formas como as representações racistas e misóginas em nossa cultura e nos espaços digitais contribuem para moldar as ideias e percepções da sociedade sobre as mulheres negras, criando uma “fusão inseparável de toxicidade”. Ver Bailey, M., & Trudy. (2018). On Misogynoir: Citation, Erasure, and Plagiarism. Feminist Media Studies, 18(4): 762–68. https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1447395; Bailey, M. (2021). Misogynoir Transformed: Black Women’s Digital Resistance. NYU Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctv27ftv0s
[2] Lima, D. C. (2024). #Conectadas: Feminismo Negro Nas Redes Sociais. Miraveja Editora. https://www.editoramireveja.com/product-page/conectadas
[3] Nossa posição como pesquisadoras e, em certa medida, membras dos mesmos grupos que algumas de nossas participantes, nos dá acesso a esses artefatos, bem como a grande parte do rico contexto necessário para analisá-los qualitativamente. Somos gratas a pesquisadoras como Catherine Knight Steele e Dulci Lima, que articularam brilhantemente abordagens semelhantes para a análise crítica do feminismo negro digital em seus próprios trabalhos. Ver Steele, C. K. (2021). Digital Black Feminism. NYU Press. https://nyupress.org/9781479808380/digital-black-feminism; Lima, D. C. (2024). Op. cit.
[4] Escrevemos sobre nossa metodologia em um artigo anterior. Ver Paes, B., & Borges, E. (2025, 28 de abril). What happens after you publish this research?”: How feminist research invites us to centre liberation, connection and care in our practice. GenderIT.org. https://genderit.org/feminist-talk/what-happens-after-you-publish-resea…
[5] Flávia (nome fictício) é uma ativista de 37 anos. Os nomes de todas as participantes da pesquisa foram alterados por motivos de privacidade, com base em uma decisão coletiva tomada com as participantes, que expressaram que o anonimato lhes conferia a capacidade de falar mais livremente sobre as questões que estavam enfrentando ou haviam enfrentado, sem correr o risco de exposição pessoal potencialmente prejudicial.
[6] Lima, D. C. (2024). Op. cit.
[7] Barros, T. N. (2021). Citado em Lima, D. C. (2024); Ribeiro, D. (2016, 10 de dezembro). A internet é o espaço que as mulheres negras encontraram para existir. El País. https://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/09/politica/1481308817_062038…; Dulci Lima afirma que: “As mulheres feministas negras, dessa forma, parecem contar com as redes sociais como um espaço de compartilhamento e troca, mas também como um ambiente onde podem exercer formas de participação nas agendas políticas da sociedade.” Lima, D. C. (2024). Op. cit.
[8] Steele, C. K. (2021). Op. cit.; Bailey, M. (2018). Op. cit.
[9] Lúcia (nome fictício) é uma tecnóloga de 39 anos.
[10] Trindade, L. V. P. (2018). It is not that funny: a critical analysis of racial ideologies embedded in racialized humour discourses on social media in Brazil. Thesis for PhD in Sociology, University of Southampton.
[11] Trindade, L. V. P. (2018). It is not that funny: a critical analysis of racial ideologies embedded in racialized humour discourses on social media in Brazil. Thesis for PhD in Sociology, University of Southampton.
[12] Bento, C. (2022). Op. cit.
[13] Maria (nome fictício) é uma ativista de 30 anos.
[14] Essa percepção é fundamentada por pensadoras como Safiya Noble, Meredith Broussard, Ruha Benjamin, Moya Bailey e Catherine Knight Steele.
[15] Somos gratas à Rede Transfeminista de Cuidados Digitais pela articulação do conceito de “cuidados digitais”: uma forma de abordar a segurança digital a partir da perspectiva do cuidado cotidiano, em vez da perspectiva do medo e da securitização.
[16] Letícia (nome fictício) é uma estudante universitária de 24 anos.
[17] Esse fio condutor nos lembra as palavras finais de Gonzalez em seu ensaio “A mulher negra na sociedade brasileira”, no qual ela presta homenagem às “mulheres negras anônimas”, reconhecendo-as como a força sustentadora que torna possível a organização das mulheres negras. Ver: Gonzalez, L. (2020). A mulher negra na sociedade brasileira. Em Por um feminismo afro-latino-americano. Zahar. https://mulherespaz.org.br/site/wp-content/uploads/2021/06/feminismo-afro-latino-americano.pdf
- 175 views





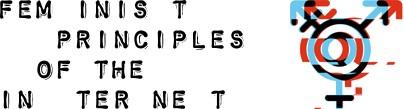
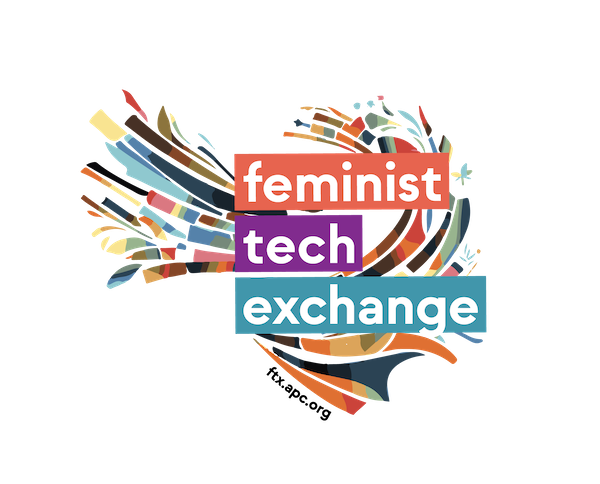
Add new comment